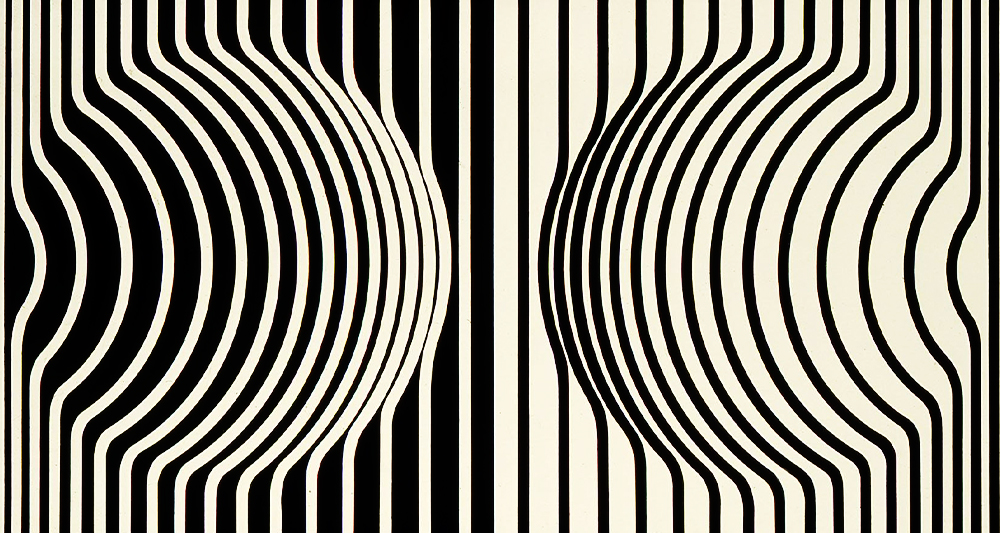–
on 26/08/2018Categorias: Alternativas, Crise Financeira, Destaques, Mundo
Punir os investimentos especulativos em ações. Tributar os
movimentos de capital. Criar bancos de fomento públicos. Incluir os
trabalhadores nos Conselhos de Administração. Esboço de programa para mudanças radicais
Por Tristan Auvray, Thomas Dallery e Sandra Rigot, do ATTAC França | Tradução: Inês Castilho
O que é uma empresa? E se, dita ao contrário, a palavra nos iluminar
sobre a natureza profunda de uma empresa? Se invertermos o nome da
coisa, podemos dizer que uma empresa é uma instituição “presa entre” [de
entreprise, em francês] diferentes injunções conflitantes de
muitas partes interessadas: seria o fato de estar “preso entre” vários
objetivos (crescimento das vendas, maximização do lucro …) ou vários
atores (empregados, gerentes, acionistas, autoridades públicas,
consumidores …) o que caracterizaria a natureza da empresa. Ela seria
então uma instituição política levada a tomar decisões que afetarão
diversos atores. Nas últimas décadas, contudo, o ambiente de negócios
mudou a maneira como essas estratégias de negócios são conduzidas,
impondo um ponto de vista particular: o dos acionistas. A palavra
“financeirização”certamente é a que melhor descreve o conjunto dessas
mudanças.
Só nos voltaremos brevemente, numa primeira parte desse artigo, sobre
a história dessa financeirização e o conjunto de estragos que ela
provoca ao nível da empresa [1], para desenvolver melhor a segunda
parte, que procurará colocar as possibilidades de livrar a empresa da
prisão das finanças.
1. O despertar das finanças
Frequentemente nos esquecemos que a dominação das finanças, que
hoje conhecemos, nem sempre existiu. Por isso, naturalizamos um mundo
no qual elas impõem sua lei, seja às empresas, aos Estados ou às
famílias. Mas um outro erro é também frequente: esquecer que a
financeirização já havia ocorrido no início do século XX. Se a máquina
do tempo nos fosse acessível, um viajante de hoje que aterrisasse nos
Estados Unidos nos “loucos anos 1920” reconheceria muitos dos problemas
contemporâneos: nível incomparável de desigualdade de renda e de
patrimônio, enorme dívida das famílias, vontade de canalizar lucros
corporativos para distribuição de dividendos. A crise de 1929 soou como
uma forma de conter as finanças desenfreadas. O New Deal do presidente
F.D. Roosevelt, na década de 1930, e a reconstrução pós Segunda Guerra
Mundial contribuíram para regular as finanças, impor-lhes limites
claros, tanto em nível interno, pela regulação do setor bancário, quanto
ao nível externo, pelo controle das movimentações de capital.
Seguiram-se três décadas de estabilidade financeira sem grandes crises,
um crescimento econômico sem precedentes, a manutenção do pleno emprego
por um período prolongado, e Estados intervindo particularmente para
reduzir as desigualdades econômicas e sociais (políticas de
redistribuição, prestação de serviços públicos, etc.).
O (novo) ponto de partida da financeirização é a desregulamentação
financeira iniciada pelos poderes públicos na virada dos anos 1970-1980.
Depois de 30 anos que certamente poderíamos chamar de “repressão da
finanças” (Mc Kinnon, 1973), os governos tiveram vontade de abrir de
novo a caixa de Pandora. Várias razões para isso: a memória da última
grande crise financeira estava começando a desaparecer; os recursos do
compromisso fordista se esgotaram, com a desaceleração dos ganhos de
produtividade e os limites do taylorismo; atores públicos puderam
acreditar na promessa de um financiamento mais barato de sua dívida
pública …
Mas é também no campo de batalha das ideias que a evolução do
mundo é decidida. De um lado, a dificuldade das políticas econômicas
tradicionais no novo contexto internacional (maior abertura comercial,
flexibilização da taxa de câmbio [2]) favoreceram o retorno das teorias
monetaristas, que preconizavam receitas simples para deter a inflação,
originária inicialmente dos choques petrolíferos, mas mantida depois por
mecanismos de indexação salarial e a continuidade de um conflito de
distribuição. De outro lado, os tecnocratas das grandes empresas
conglomeradas (Galbraith, 1968), com suas estratégias de crescimento em
detrimento da rentabilidade, foram criticadas pelas teorias que viam
nisso um abuso de poder por parte de gerentes que deveriam agir no
interesse exclusivo dos acionistas (Jensen e Meckling, 1976).
É particularmente sob a influência dessas duas correntes de ideias
(teorias monetaristas em nível macroeconômico, teorias da agência em
nível microeconômico) que foram criados, a partir da década de 1980, os
dois pilares do capitalismo financeiro: os mercados financeiros
organizados de acordo com os princípios da liquidez [3]; as regras de
governança corporativa, inspiradas e transmitidas pelos fundos de pensão
dos EUA, estabeleceram a primazia do poder dos acionistas sobre a
empresa.
Em termos concretos, em nível macroeconômico, os mercados financeiros
foram descompartimentados, o que deveria permitir fornecer aos Estados
um financiamento mais barato para a sua dívida pública. Na prática,
tratava-se sobretudo de disciplinar os Estados, colocando sua política
orçamentária sob a vigilância dos mercados, reduzindo progressivamente o
espaço para as políticas intervencionistas agora julgadas nefastas. A
desregulação dos mercados financeiros devia assim permitir uma alocação
ótima da poupança com relação a melhores oportunidades de investimento, o
que favoreceria, em tese, as empresas. Sob o plano microeconômico, os
acionistas, que reencontraram possibilidades de mobilidade de seu
capital, conseguiram acertar o passo com os gerentes, alinhando o
interesse dos administradores com o dos diretores. Por um lado, os
mecanismos de remuneração dos gestores foram indexados ao desempenho
financeiro, e não ao crescimento. Por outro, ao lado de acionistas
estratégicos que reduziram seu compromisso num conjunto de negócios, os
novos acionistas voláteis, prontos para vender pelo maior lance, foram
alçados ao capital das empresas, deixando no ar a ameaça de uma
aquisição do controle que levaria à substituição da equipe de
gerenciamento recalcitrante por uma nova gestão mais em sintonia com os
interesses dos acionistas.
No decorrer dos anos 1980-1990, a abertura da conta de capital dos
Estados permitiu que a poupança colocasse em competição todas as
oportunidades de investimento: com o desaparecimento dos obstáculos à
livre circulação dos capitais, as empresas deveriam exibir as melhores
performances se desejassem atrair poupanças. Além disso, diante de
poupanças cada vez mais abundantes [4], desenvolveu-se uma verdadeira
indústria financeira, com gestores de fundos coletando enormes quantias
de poupança.
O ambiente institucional estava então maduro para consagrar a
dominação do acionista sobre a empresa, seja graças à governança das
empresas (que lhes dão diretamente o poder nas instituições de direção
das empresas) ou graças à liquidez dos mercados financeiros (o que torna
possível disciplinar os gerentes em razão das variações do preço da
ação). Se a governança da empresa garantia a dominação do acionista
desde meados do século XIX (segundo o princípio “uma ação = um voto)”, a
novidade dos anos 1980 residiu na importância crescente assumida pela
liquidez.
Com um mercado de capitais unificado, que permite aos investidores
deixar uma empresa a qualquer momento, o horizonte de investimento vai
tornar-se mais curto: é a generalização do curto-prazismo. Os atores
financeiros estarão então cada vez mais interessados nas potencialidades
de valorização para os mercados do que nos fundamentos da economia e
das empresas subjacentes (investimento …). Isso resulta numa lógica de
predação em que atores financeiros pilham as empresas de seus recursos
(distribuição de dividendos elevada, mas também aquisição de ações) [5],
e a obrigação de adotar reduções frenéticas de custos.
O sofrimento no trabalho nutre-se das exigências imputáveis à
financeirização: as empresas precisam gerar lucratividade suficiente, é
claro, mas também, mais insidiosamente, a obrigação de apresentar as
contas para permitir que os financiadores avaliem a produtividade de
diferentes centros de lucro. Agora que a empresa é vista como um
portfólio de atividade que é possível vender por partes, o pessoal da
operação sofre as consequências, enquanto o pessoal de gestão,
responsável por fazer o trabalho sujo de reestruturação, vê sua lealdade
aos interesses dos acionistas comprados por remuneração cada vez maior.
Isso produz desigualdades salariais sem precedentes no interior dos
países. Mas a lógica da redistribuição do capital também reestrutura as
relações das grandes empresas com os Estados-Nações: estes são
convocados a exibir o “melhor” [6] ambiente social (baixos níveis
salariais e de contribuições sociais, boa relação qualidade/custo de mão
de obra ou infra-estrutura …), fiscal e regulatório para atrair/reter
grandes empresas. Seguem condições de trabalho particularmente
deterioradas nos Estados que aceitam esse estado de coisas, contando com
as receitas geradas pela presença dessas subsidiárias de grandes
empresas, explorando até o pior paraíso regulatório, social e fiscal: o
drama do
Rana Plaza em Bangladesh marca talvez uma ruptura nessa lógica de desresponsabilização das empresas e dos Estados ocidentais…
Como se vê, muitos de nossos problemas econômicos e sociais
referem-se ao lugar deixado para as finanças no funcionamento de nossas
economias. Para identificar o horizonte de possibilidades e vislumbrar
um futuro melhor, é esse lugar que precisa ser questionado para
(re)conquistar graus de liberdade que favoreçam o bem-estar das
populações.
2. Livrar-se das garras das finanças
Ao final do diagnóstico sobre a evolução das finanças e seus
desvios, identificamos as duas armas financeiras que constrangem a
empresa: a governança corporativa e a liquidez dos mercados. Para chegar
ao fim da empresa financeirizada, é sobre essas duas alavancas que
devemos procurar agir. As diferentes propostas que formularemos aqui
traçam linhas de fuga que cada um poderá aproveitar de acordo com seu
grau de radicalidade, mas todas apontando na mesma direção: trata-se de
tentativas, mais ou menos exacerbadas, de desfinanceirizar a economia
para liberar a empresa.
A primeira pista poderia ser favorecer certos acionistas em
detrimento de outros mais nocivos. Por exemplo, existe o que chamamos de
investidores institucionais, dotados de um passivo de longo prazo
(fundos de pensão, companhias de seguros). Esses atores financeiros, que
gerem massas consideráveis de fundos (em particular os fundos de pensão
norte-americanos), têm obrigações financeiras previsíveis e normalmente
não sofrem de necessidade de liquidez. A natureza de seu passivo lhe
permitiria, em teoria, investir a longo prazo, isto é, engajar-se no
capital das empresas num horizonte temporal de vários anos, sem reclamar
rendimentos elevados para responder à necessidade de desembolsos no
curto prazo. Em resumo, acionistas pacientes. Só que, na prática, esses
investidores institucionais não são virtuosos. Eles delegam maciçamente a
gestão de seus ativos aos fundos que recrutam com base em seu
desempenho financeiro. Sem um regulamento que enquadre severamente a
delegação de gestão de ativos desses investidores institucionais, é
ilusório esperar uma força capaz de reverter a pressão financeira sobre
as empresas.
Outra maneira de privilegiar aqueles que seriam os “bons” acionistas
em detrimento dos “maus” deve ser encontrada do lado da governança
corporativa. Poderíamos considerar conceder direitos de voto
proporcionais ao tempo de detenção das ações. Com tal medida, os
acionistas curto-prazistas não pesarão nas decisões estratégicas das
empresas. Seu voto pela distribuição de dividendos elevados não será
mais tão decisivo. [7] Esse tipo de direito de voto majoritário já
existe, em alguns países. Infelizmente, pode também servir aos
interesses de acionistas que estão no capital da empresa há muito tempo e
desejam fazer suas posições frutificar (ou mesmo liquidar),
beneficiando-se de direitos de voto duplo. Em vez desse bônus para
acionistas de longa data, Colin Mayer (2013) propõe direitos de voto
inversamente proporcionais ao período de compromisso remanescente: seria
o caso de pedir aos acionistas para se comprometer com um período de
investimento e tornar os direitos de voto degressivos ao longo do tempo.
Assim, o acionista que se comprometa por 10 anos teria 100% dos seus
direitos de voto no primeiro ano, depois 90% no segundo ano, depois 80%
no terceiro ano …, e assim por diante até o último ano, quando seu
direito de voto seria nulo. Esse princípio tem o mérito de colocar uma
questão política real: por que os acionistas disporiam do direito de
olhar para a evolução de uma empresa, uma vez que não sofrerão as
conseqüências de sua decisão depois de vender seus títulos?
Sempre nessa lógica de privilegiar os “bons” acionistas, será
interessante procurar fortalecer o papel do mercado primário. No mercado
de ações, 99% das transações dizem respeito a títulos usados. O mercado
de ações permite, portanto, aos investidores trocar títulos previamente
emitidos sem que as empresas subjacentes recebam fundos. No entanto,
embora a maioria dos acionistas não tenha contribuído para o
financiamento de empresa subscrevendo uma nova emissão de ações, eles
ainda têm o direito de votar influenciando a estratégia da empresa. Pode
ser interessante conceder direitos de voto apenas a acionistas que
tenham subscrito novas emissões de ações: uma vez que a garantia tenha
retornado, a ação perderia os direitos de voto associados e se tornaria
um objeto de especulação pura, sem qualquer influência direta na direção
do negócio. Se alguém quiser aumentar a capacidade de financiamento dos
mercados de ações também seria útil exigir, por meio de regulamentação,
que os investidores institucionais dediquem uma determinada parcela de
sua carteira a investimentos no mercado primário. Por exemplo, os fundos
de pensão poloneses são obrigados a não investir mais do que 7,5% de
seus ativos nos mercados secundários.
Se, no plano de fundo, algumas das propostas acima já apontavam para
essa questão, agora examinaremos mais de perto o desenvolvimento da
governança que poderia libertar a empresa da pressão financeira. De um
modo ou de outro, trata-se de romper com o princípio (“uma ação = um
voto”) da base do capitalismo. Modulando os direitos de voto em função
da duração da detenção ou condicionando a existência desses direitos de
voto à subscrição de uma emissão de ações no mercado primátio,
estaríamos já atacando esse princípio. Mas é possível propor outras
maneiras de fazê-lo. O primeiro procedimento será introduzir mais
funcionários no conselho de administração: assim, os votos da assembleia
geral dos acionistas seriam contrabalançados por um contrapoder
representando o interesse dos empregados. François Morin (2017) propõe,
por exemplo, um conselho administrativo que seja dividido em três partes
iguais: acionistas, assalariados e persoalidades qualificadas em
domínios científicos ligados à atividade da empresa (nomeados em
paridade por representantes dos acionistas e dos assalariados). Da mesma
forma, o comitê executivo, que exerce a administração geral, deve
representar acionistas e empregados. Naturalmente, hoje o ponto de vista
de certos funcionários – os gerentes – é assegurado por meio de opções
baseadas em ações e outros mecanismos de remuneração indexados ao
desempenho financeiro da empresa. Mas se esses incentivos são
controlados, o conselho de administração poderia restaurar uma instância
de discussão em que a empresa decide remunerar seu passado (os
dividendos para os acionistas), seu presente (bônus para os
assalariados) e seu futuro (autofinanciamento para preparar o
investimento futuro para pessoal qualificado).
Outra linha de reflexão interessante para modificar a governança
seria reforçar o papel de um banco de investimento público. O Estado
acionista tem má fama, porque muitas vezes usa essas participações como
meio de reduzir suas dificuldades em finais de mês difíceis. Do mesmo
modo, alguns bancos públicos (como o atual Banco Público de Investimento
— BPI — da França) assumem frequentemente as mesmas exigências de
rentabilidade que os atores financeiros privados, por medo de ser
taxados de amadorismo financeiro. Para romper com essas tendências,
seria adequado restabelecer uma instituição financeira pública que
agisse como seu status público lhe permite: desempenhar um papel
moderador na governança das empresas, não exigindo rendimentos muito
elevados; não reproduzir a pressão pela liquidez sobre as empresas,
assegurando-lhes um tempo de detenção longo. Além disso, tal instituição
poderia beneficiar-se de um poder de ação colossal, se uma
regulamentação redirecionasse uma poupança atualmente na administração
para investidores institucionais (fundos de pensão e seguradoras). Estes
delegam o investimento de seus ativos a fundos de curto prazo e podem
ser forçados a delegar a esse novo intermediário público um percentual
crescente de seus ativos. Lembremos que em 2010 as companhias de seguro
controlavam, só na França, mais de US$ 2 trilhões em ativos sob gestão.
Fazer com que essas massas de poupança acompanhassem as empresas em seu
desenvolvimento seria uma grande alavanca para a economia.
Conclusão
A subordinação das empresas e dos Estados aos desiderata
dos mercados financeiros é consequência da absoluta liberdade de
movimento do capital financeiro, e principalmente da existência dos
mercados secundários. Para voltar a conferir autonomia aos atores
econômicos, impõe-se limitar a livre circulação de capitais. Nossas
propostas têm esse objetivo: impor um período mínimo de posse das ações
aos acionistas e/ou obrigar os investidores institucionais a organizar
uma delegação de gestão de ativos num banco de investimento público… A
restrição aos movimentos do capital pode ser obtida pela regulamentação
(controle de capitais em vigor na era de Bretton Woods), mas também por
mecanismos de incentivo. Numa economia globalizada, os acionistas serão
sempre livres para colocar seu capital onde bem entendam, mas deverão
depositar um imposto às autoridades fiscais do território que seu
capital deixa. É, na verdade, uma medida liberal no sentido de que a
escolha é, em última análise, deixada ao ator econômico.
Poderíamos até chamar a medida de neoliberal, já que se deixarmos a
ilusão de escolha ao ator, ele será forçado a atuar num universo onde as
restrições são tais que ele realmente se comportará como queríamos
originalmente. A movimentação de capitais não é proibida formalmente,
mas na prática, com uma taxa de imposto de saída suficientemente alta,
eles não “se moverão” (se o efeito desejado for este).
Cada vez mais vozes estão expressando a demanda pela redução na
interconexão dos mercados financeiros. Incluindo alguém como Lord Adair
Turner, ex-dirigente do equivalente britânico da Confederação da
Indústria Britânica (Medef), que questiona a liberdade da movimentação
de capitais (AlterEco+, 23 de novembro de 2015), defendendo mercados
financeiros mais fragmentados, capazes de evitar a propagação de uma
crise nacional num impacto global.
Mas a desfinanceirização passará também por uma mudança de
representação. É o conjunto de normas contábeis que deve ser
reconsiderado, para acabar com a contabilização pelo valor de mercado. É
também a vulgata liberal que devemos combater: não, os acionistas não
são donos das empresas [8]; não, os acionistas não financiam a empresa
[9]; não, os agentes financeiros não são investidores [10]; não, o
acionista não é o único a assumir o risco [11] … A luta política também
passa pela linguagem.
Outras medidas poderiam também entrar no inventário do que seria
desejável fazer para nos libertar das garras das finanças (imposto sobre
transações financeiras, organização de um cadastro financeiro
internacional, necessidade de obter autorização prévia de
comercialização para todas as inovações financeiras …). Na verdade, a
agenda de um governo que queira agir contra o capital financeiro já está
bem identificada. É acima de tudo a falta de vontade política que nos
deixa sob o jugo das finanças.
Num mundo que funciona de cabeça para baixo, às vezes é preciso ir
para trás para avançar na direção do bom senso. Colocar as finanças em
seu lugar implica mudanças, algumas das quais são como retroceder. Não é
uma questão de retornar a regulamentos do passado a fim de glorificar
uma época que acabou. Simplesmente, a marcha do progresso social às
vezes se casa com caminhos “reacionários”. Precisamos realmente de uma
reação contra as finanças. [12]
Dans un monde qui marche autant à l’envers, il faut parfois
accepter d’avancer à reculons pour aller dans le bon sens. Remettre la
finance à sa place suppose des changements, dont certains s’apparentent à
un retour en arrière. Il ne s’agit pas de revenir à des règlementations
passées afin de glorifier une époque révolue. Simplement, la marche du
progrès social épouse parfois des chemins « réactionnaires ». C’est bel
et bien d’une réaction contre la finance dont nous avons besoin.
Bibliografia
Favereau, O. (2016), L’impact de la financiarisation de l’économie sur
les entreprises et plus particulièrement sur les relations de travail,
Bureau International du Travail, Genève.
Galbraith, J. K. (1968), The New Industrial State, Boston : Houghton Mifflin.
Jensen, M., Meckling, W. (1976), « Theory of the firm : Managerial
behavior, agency costs, and capital structure », Journal of Financial
Economics, vol. 3, n°4, pp. 305–360.
Mayer, C. (2013), Firm Commitment. Why the corporation is failing us and
how to restore trust in it, Oxford : Oxford University Press.
McKinnon, R. I. (1973), Money and Capital in Economic Development. Washington, D.C. : Brookings Institution.
Morin, F. (2017), L’économie politique du XXIe siècle, Lux Editeur.
Robé, J.P. (1999), L’entreprise et le droit, PUF, Paris, 127 p.
Notas
[1] O leitor particularmente interessado nessas questões deve consultar o
relatório de Olivier Favereau (2016) no escritório da Organização
Internacional do Trabalho.
Le lecteur intéressé plus particulièrement par ces questions est
grandement incité à consulter le rapport du Bureau International du
Travail rendu par Olivier Favereau (2016).
[2] Nunca é demais ressaltar que o desenvolvimento das finanças vem dos
riscos que foram criados pelos próprios financiadores: assim, os famosos
derivativos nascem desse desejo de se proteger contra as variações das
taxas de juros e da taxa de câmbio que os financiadores (e alguns
economistas) queriam. A variabilidade desses dois preços (taxa de juros e
taxa de câmbio) fez surgir uma nova área de especulação.
On ne rappellera jamais assez que le développement de la finance
provient de risques qui ont été créés pour les les financiers eux-mêmes :
ainsi, les fameux produits dérivés sont nés de cette volonté de se
protéger contre les variations de taux d’intérêt et de taux de change
que les financiers (et certains économistes) appelaient de leurs vœux.
La variabilité de ces deux prix (taux d’intérêt et taux de change)
faisait émerger un nouvel espace de spéculation.
[3] Todos os ativos devem ser avaliados num mercado que se tornou
universal, com cotações contínuas em todo o mundo, permitindo que eles
comprem ou revendam a qualquer momento.
L’ensemble des actifs doivent être évalués sur un marché devenu
universel, avec des cotations en continu partout sur la planète, ce qui
permet d’acheter ou de revendre à tout moment.
[4] Numerosas razões podem explicar essa abundância de poupança: o
envelhecimento da população nos países desenvolvidos, a decolagem dos
países emergentes ou a abundância de liquidez dos países produtores de
petróleo.
De nombreuses raisons peuvent expliquer cette abondance de l’épargne
: le vieillissement de la population dans les pays développés, le
décollage des pays émergents, ou l’abondance de liquidités des pays
producteurs de pétrole.
[5] A multiplicação de recompras de ações foi permitida nos Estados
Unidos após a nomeação pelo presidente Reagan, em 1982, do ex-banqueiro
John Shad para chefiar a Securities and Exchange Commission (SEC). Pela
Regra 10b-18, a SEC autorizou a recompra de ações nos mercados, uma
prática anteriormente proibida como manipulação de preços de ações.
La multiplication des rachats d’actions a été permise aux États-Unis
suite à la nomination en 1982 par le président Reagan de l’ancien
banquier John Shad à la tête de la Securities and Exchange Commission
(SEC), le gendarme financier américain. Par la Règle 10b-18, la SEC a
autorisé les rachats d’actions sur les marchés, pratique qui était
jusqu’alors interdite car considérée comme de la manipulation des cours
boursiers.
[6] Trata-se certamente do “melhor” no sentido dos negócios: temos uma lógica do chamado social, fiscal ou regulatório.
Il s’agit bien sûr du « meilleur » au sens des entreprises : on a
bien une logique du moins-disant social, fiscal ou règlementaire.
[7] Deve-se notar, no entanto, que sua capacidade de exercer pressão
sobre os executivos não é nula: eles ainda podem, através da ameaça de
venda massiva de títulos, obter essas distribuições de dividendos, a
administração com medo do que resultaria dessas vendas.
Il est cependant à noter que leur capacité à faire pression sur les
dirigeants n’est pas nulle pour autant : ils peuvent encore, par la
menace de ventes massives de titres, obtenir ces distributions de
dividendes, le management pouvant prendre peur de la baisse du cours qui
résulterait de ces ventes.
[8] Simplesmente não há direito (Robé, 1999).
Il n’y en a tout simplement pas en droit (Robé, 1999).
[9] A principal fonte de financiamento continua a ser, de longe, o
autofinanciamento, isto é, a renda que o coletivo “empresa” separa para
preparar seu futuro.
La source principale de financement reste, de très loin,
l’autofinancement, c’est-à-dire le revenu que le collectif « entreprise »
met de côté pour préparer son avenir.
[10] A ação de investimento é feita por empresas que aumentam ou/e
aprimoram seus equipamentos produtivos. No máximo, pode-se dizer que os
acionistas financiam parte do investimento, mas apenas quando assinam
uma nova emissão de ações.
L’action d’investissement est faite par les entreprises qui
augmentent ou/et améliorent leur équipement productif. Tout au plus, on
peut dire que les actionnaires financent une partie de l’investissement,
mais uniquement lorsqu’ils souscrivent à une émission d’actions
nouvelles.
[11] Especialmente porque os acionistas conseguiram institucionalizar as
práticas de distribuição de dividendos, mesmo na ausência de lucros,
quando a lógica da remuneração variável gostaria que os dividendos
baixassem quando os lucros caíssem … Além disso, os funcionários também
carregam um risco: o de perder o emprego.
Surtout que les actionnaires ont réussi à institutionnaliser des
pratiques consistant à des distributions de dividendes, même en
l’absence de profits, là où la logique de la rémunération variable
voudrait que les dividendes baissent quand les profits baissent… Par
ailleurs, les salariés portent aussi un risque : celui de perdre leur
emploi.
___
Tristan Auvray, Thomas Dallery e Sandra Rigot são membros dos “Economistas decepcionados” e autores de A empresa liquidada. Finanças contra Investimento, Michalon, março de 2016.